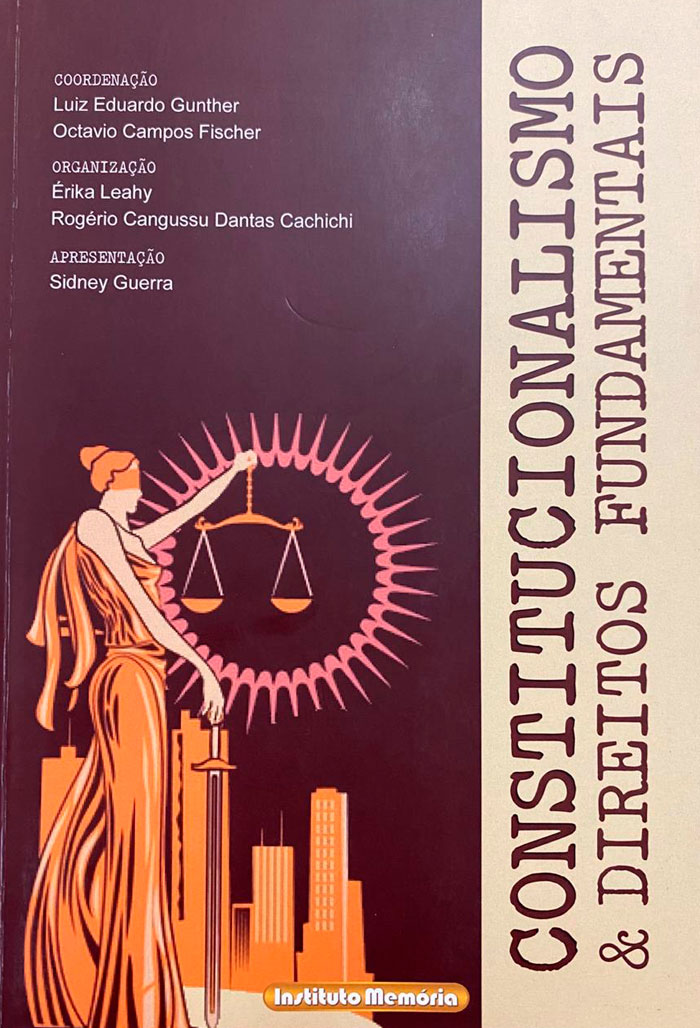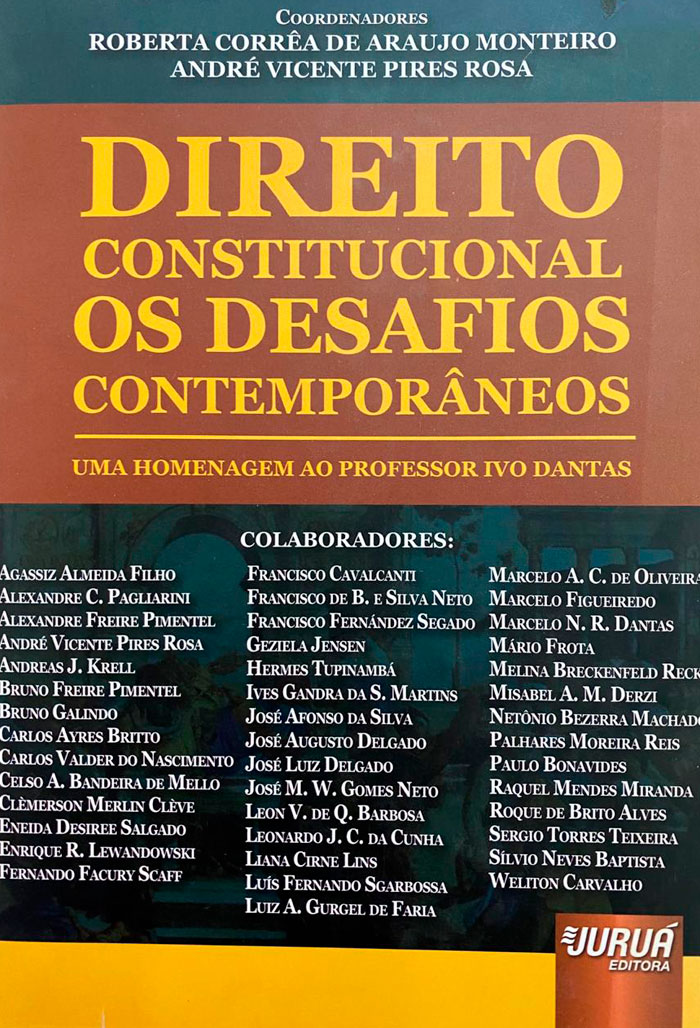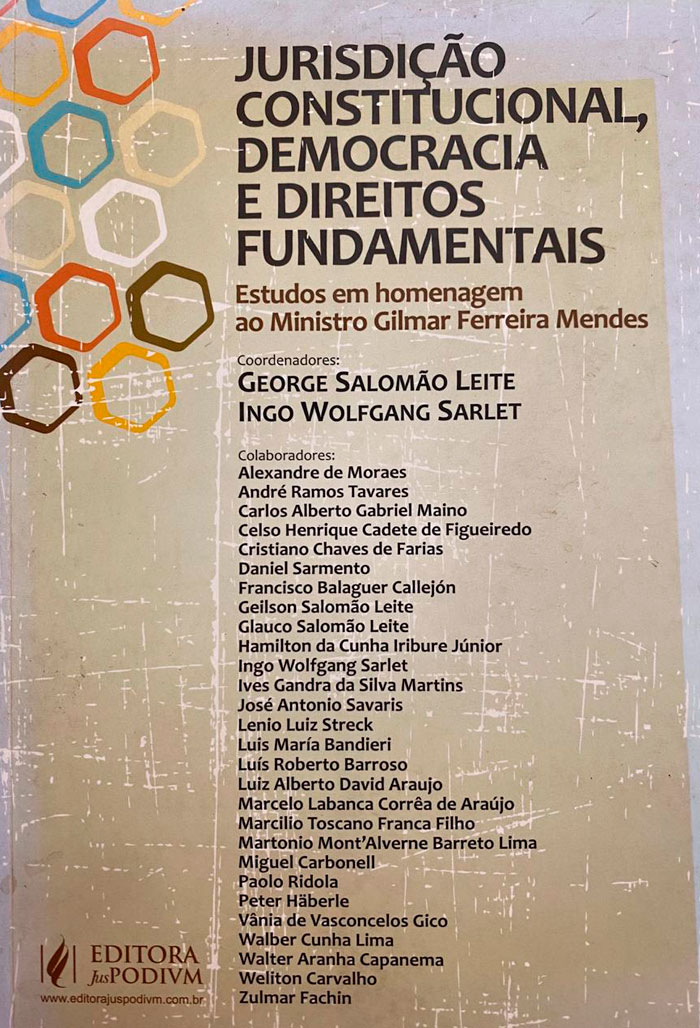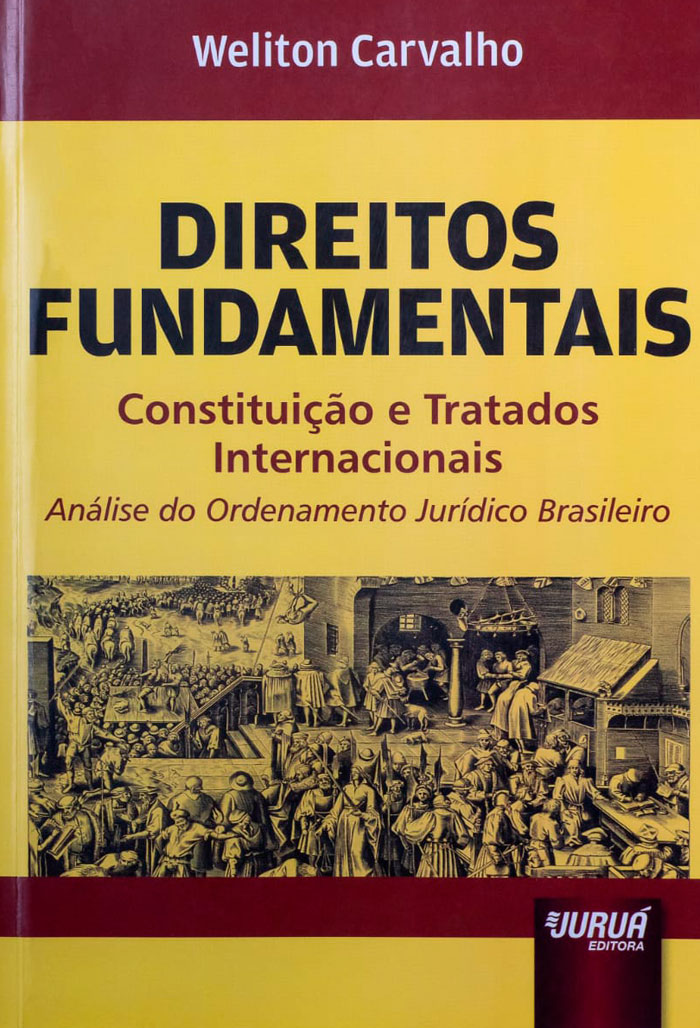a cidade está no homem
quase como a árvore voa
no pássaro que a deixa
(Ferreira Gullar)
Não digo repouso eterno, pois é toda ebulição:
sol abrasador e noite de todos os abismos azuis
que me arrastam na vertigem feérica da infância.
Uma cidade – inventada e real – habita o menino
desatando o arrastar alucinado do tempo e da vida.
Como no Gênesis, fez-se luz nas quintas e quintais
e um leite espesso da manhã se espraiou em nuvens
e tudo se fez encantamento imune à morte.
Era preciso luz, mais luz, muita luz, Goethe
que as noites de Santa Inês eram da densidade
do universo em seu princípio antes do verbo.
E em danação tudo se movia em desejo e busca:
varejeiras, minhocas, mosquitos, os bichos todos,
as coisas todas – que tudo era vida em festa
que tudo era deslizamento da luz.
Tudo rugia feroz no azul zenindo de vida e sonho:
Zeus era íntimo das dádivas todas ofertadas ao olhar
(todos os deuses eram pagãos em algazarra).
Quintas e quintais, o mundo inteligível do Cosmo,
onde sujeito e objeto catalisados em dínamo louco
se lambuzavam na metafísica e na terra aos pés.
Santa Inês era o tudo envolto ao nada inexplicável,
que o tudo e o nada sinônimos perfeitos do existir.
O tempo rasga a carne, os ossos, a alma, o infinito
– a vida flutua em esferas intangíveis ao humano.
Homens e mulheres andando todos os dias ao sol
em busca de caminhos na sanha de inventar a vida
e Santa Inês a repetir a felicidade em miudezas
que escorriam entre a lida e o olhar fatigado.
O grito do azul e o silêncio eram a gramática infantil:
o silêncio se dissolvia no sax triste de Dico Moreno
e a tuba de Joaquim Aranha fazia o azul gritar ao sol.
E ainda flameja nas mãos do menino a cidade toda
com todo o seu transbordar da beleza em carência
e a carência tanta se resolvia em si a brotar a flor
– flor de água, de vento, de brisa, de nada e azul.
Na tarde o carro de boi moendo a pressa do tempo
e a brisa tal veludo acariciando a sesta das sombras:
quintas e quintais ensinavam preguiça sem pecado
e o prazer dos gregos (ainda ignorados) era fruição.
Pierre dentro da quitanda a sorver a vida no varejo
entre sacos de farinha, açúcar, feijão e os aromas:
havia uma palpitação louca de cheiros na quitanda
– uma fragrância que entranhava na tarde, na alma.
A quitanda de Seu Zezico era solar, sem sombras,
onde a alquimia se misturava ao movimento da vida
à beira da calçada, palco de algazarra e o gritar do sol
e não se via o soluçar das bananas morrendo devagar.
Na madrugada anônima o cão solitário latia triste
– já era a poesia convocando o menino ao mistério
e o mesmo fazia o galo no celebrar do novo dia.
No novo dia, Teteo ligeiro a entregar as notícias
em letras do jornal que só diziam da realidade fria
a deixar os homens taciturnos e alheios à magia
que nos olhos do menino bailava à luz do dia.
O sol trazia o frêmito da rua Grande ao comércio
para se inventar a vida entre negócios e consumo:
indiferentes, riachos, manhãs e o nada fluíam
que o mundo só existe nos espelhos esféricos.
Sempre o escorrer da vida nos olhos do menino
por haver nas coisas outras coisas a se esconder
no esconde-esconde por tudo revelar e se perder:
mistério, palavra a nada decifrar e a tudo desejar,
pois na busca reside o sentido do caminho.
Loucura, a liberdade fugindo dos limites da razão
– essa a lição dos loucos dada ao sentido da arte:
Doutor Adão a receitar catuaba a todos os males;
Fartura a carregar consigo as bugigangas do mundo;
D. Sabastiana a plantar a flor no urinol furado.
Os loucos foram os profetas do tempo do menino:
Doutor Adão lhe ensinou rudimentos da hipocondria;
Fartura a acumular livros, papéis e inutilidades outras;
D. Sebastiana a lhe trazer o dadaísmo e arte conceitual.
(o urinol furado donde esplendia a flor era mais belo
que o urinol impessoal e frio criado por Duchamp)
– a poesia cria a sua teoria para depois a dissolver,
que a arte arde no rebelde das esferas lúdicas.
Por isso galinhas, patos, silêncio, brisa, folhas secas
formavam uma sinfonia delirante com o lodo, o sol
e o azul se derramando lírico-voraz rumo ao infinito
(aqui o menino já ouvia a Pastoral de Beethoven)
Lembranças habitam a cidade por sobre as suas pedras
que me veem como coice, bálsamo de insignificâncias:
me chega à memória o Santim na sua esquálida figura,
a quem mamãe ofertou os sapatos de bico fino de papai
(os sapatos por seu bico fino eram em si cômicos).
E Santim os recusou, mas não escapou da joça criada:
Dizia eu e minhas irmãs em engasgue de gargalhada:
— Lá vai, lá vai, lá vai o Santim no sapato de Aladim!
— Lá vai, lá vai, lá vai o Santim no sapato de Aladim!
— No sapato de Aladim, lá vem, lá vem, o Santim!
— E agora vem, vem, Aladim no sapato do Santim!
— E agora, vem, vem Aladim no sapato do Santim!
No mês de junho era São João e São Pedro a reinar
nas fogueiras a brilhar o mundo e aquecer as almas
(canjica, arroz doce, mingau de milho, pamonha).
O brilho em febre vinha visitar a vida em festa:
era o bumba meu boi do Lobato a rugir o canto
(o bumba meu boi festeja um lamento
e rasga os olhos da tristeza).
Os pandeirões a guarnecer a beleza ecumênica:
o boi é dança, música, teatro, religião, folclore,
entrelaçar de raças que formam um país inteiro
– frenesi escarpado e macio própria da poesia.
Balões colorindo a noite e a fogueira ardendo
nos olhos do desejo em brasa junto ao singelo.
Depois a vida voltava ao encanto do prosaico
que a vida um milagre tão sutil quanto casual
e assim desliza como um noturno de Chopin.
Ao fim do dia o sol ia devagar beijando a lua,
a praça se acendia em relâmpagos de sonhos.
E Abraão Barros sentado no banco da praça
pisava no pé do outro ao passar da moça bonita
espichando os beiços numa exclamação cômica:
— Vigia! Que tales?! – e a moça era toda faceira.
(e os meninos a imitar: — Que tales? Que tales?)
No ritual da noite, as cadeiras à porta da rua
– em farfalhar de vulgaridades encantadas –
e a noite se ia sem melancolia: amanhã seria igual
(à noite o silêncio era o fantasma a assustar a vida).
Ah, e quando vinha à cidade o circo mambembe?!
o mundo se coloria cobrindo o rasgado da lona
– que o sonho restaura o esgarçar do palpável.
E o palhaço perna de pau tão alto tão junto ao céu
e o coral infantil a gritar: — Hoje tem espetáculo?
— Tem sim, sinhô? — Tem sim, sinhô!, sim, sinhô
(a vida é infinita no seu desatar inocente!)
Na noite mágica a trapezista de maiô brilhante
mais que as estrelas por cima da lona furada;
a sudorese e os motociclistas do globo de ouro;
o palhaço a encantar entre ridículo e cômico;
os leões, as onças, o elefante, o macaco prego
– com eles meu reino seria o Império Romano
(ali o circo de Soleil com encanto da carência)
Quando o circo se ia levando a bailarina
ficavam as matinês do cine Art Palácio,
onde a poesia se fazia música e gestos:
– os festivais impregnados de beleza!
(Silveira, Gilberto, Lourival, Vicente:
eles não sabem, mas um menino
magricela viu ali a poesia em canto
no gris encantado daquelas manhãs).
Mas havia o lado sombrio e assustador da cidade:
crimes de encomenda, emboscadas, brutalidade,
o medo do menino do bando dos homens maus
invadirem as quintas, os quintas, o castelo, o poço
(toda a luta era pela água doce do poço viçoso
já que o bando mau vinha de terras desérticas:
do deserto do Texas, onde perseguiam Django).
Sonhei que cavaleiros invadiam quintas e quintais
(eles usavam armaduras com uma cruz enorme):
as cruzadas chegaram ao reino para impor a fé
(nesse tempo minha mãe me levou à igreja).
Quando comecei a ir à missa com minha mãe,
confesso que o ritual se revelou todo enigmático,
mas uma frase na memória tal nódoa no mistério
se fez latejar: — Direi uma palavra e serei salvo!
(foi a autêntica versão da parábola do semeador):
a palavra, mistério flamejante que dói e cintila,
mas sobretudo flutua em imagem e delírio.
Mesmo convertido à fé o reino estava em perigo:
os bárbaros já se faziam muitos contra o sonho.
No entanto se isso acontecesse haveria solução:
chamaria Django para derrotar os homens maus
e libertar as quintas, os quintais, os bichos, o poço.
Não havia ainda outra cidade dentro da cidade
– a gemer vidas despedaçadas debaixo do sol:
ali próximo do meu reino a fome se alastrava,
outros meninos não podiam sonhar.
Essa questão social jamais chegou ao meu reino:
dela comecei a desconfiar quando meus amigos
não podiam ir ao Art Palacio domingo a tarde
encontrar com Django a defender a liberdade.
Fato é que outros assuntos de governo urgiam:
onde meu Rocinante ia comer no inverno?
como proteger o caramanchão do cupim?
E o carnaval se aproximava com seus fofões,
quando Valmir fazia suas máscaras horrendas
(focinho de porco, tristes figuras macabras):
nas fôrmas de barro voltava-se à origem
do humano e de seus sonhos a inventar.
Valmir não podia ir ao clube brincar carnaval,
porque seu pai não era sócio: o clube da elite
(de novo a questão social sempre adiada)
Antes da questão social, a angustia metafísica:
– veio a morte dizer que vigiava a vida –
Então tudo um dia iria desaparecer do reino?:
varejeiras, minhocas, mosquitos, os bichos todos,
as coisas todas, a crosta de lodo ao lado do poço,
Django, o Art Palácio, a brisa, o azul e a luz?
Foi em dezembro o ápice da crise metafisica,
exatamente no nascimento de Jesus, o salvador:
eu e o brinquedo; os meninos e o abandono.
Só podia ser culpa daquela data mal explicada,
porque antes em outra tarde na rua da Raposa,
quando meu pai ligou o trem de pilha a andar
e nos trilhos apitar alto os meninos eram festa!
(naquele dia meu pai antecipou o século XXI).
Agora noto nessa conversa com o menino:
num flash tal raio todo um reino se perdeu.
O tempo rasga a carne, os ossos, a alma, o infinito
– a vida flutua em esferas intangíveis ao humano –
tudo grita dentro do menino em mistério e danação:
mistério e danação singram o Atlântico
se o menino acaso o atravessar.
Então tudo se foi e tudo ficou no insolúvel da vida:
a casa que não é mais da família, o poço entulhado
de tantos desejos, de tanta memória, de tanto delírio
que talvez nem a fala se faça linguagem, Lacan.
Tantos se encantaram: Dico Moreno e o sax triste;
Joaquim Aranha em sua tumba e suas lamparinas;
Seu Zeza e a bíblia; Abraão Barros e a exclamação!
E então o menino se indaga da solução para a dor
que lateja na carne, nos ossos, na alma, no infinito:
o réquiem talvez a devolver o passado aos mortos.
Não é próprio do réquiem sepultar a vida:
os mortos estão impregnados do eterno.