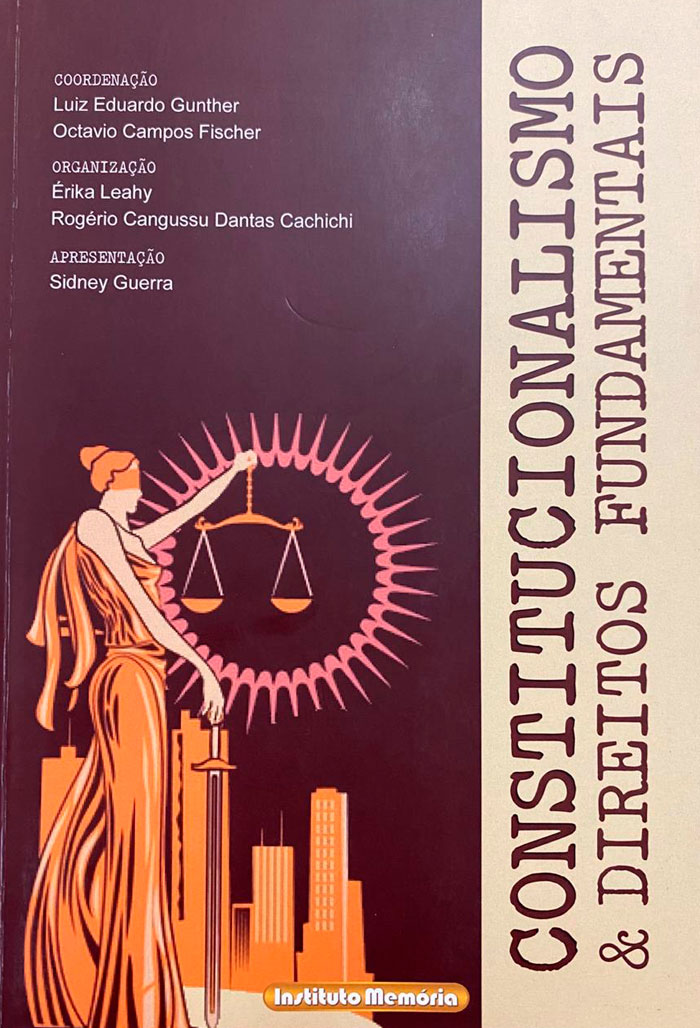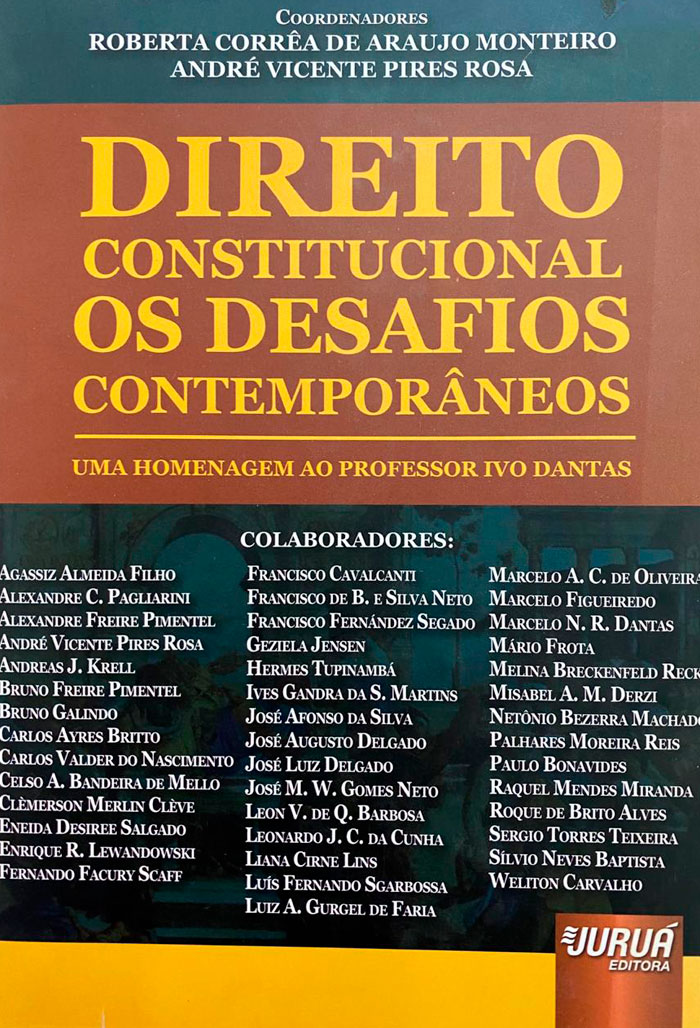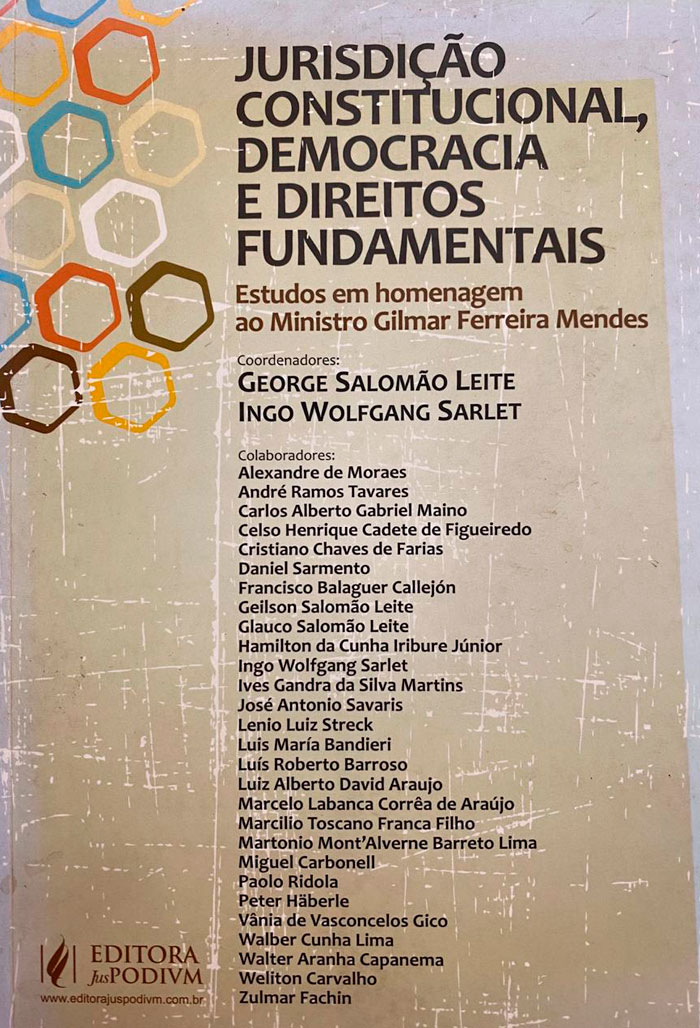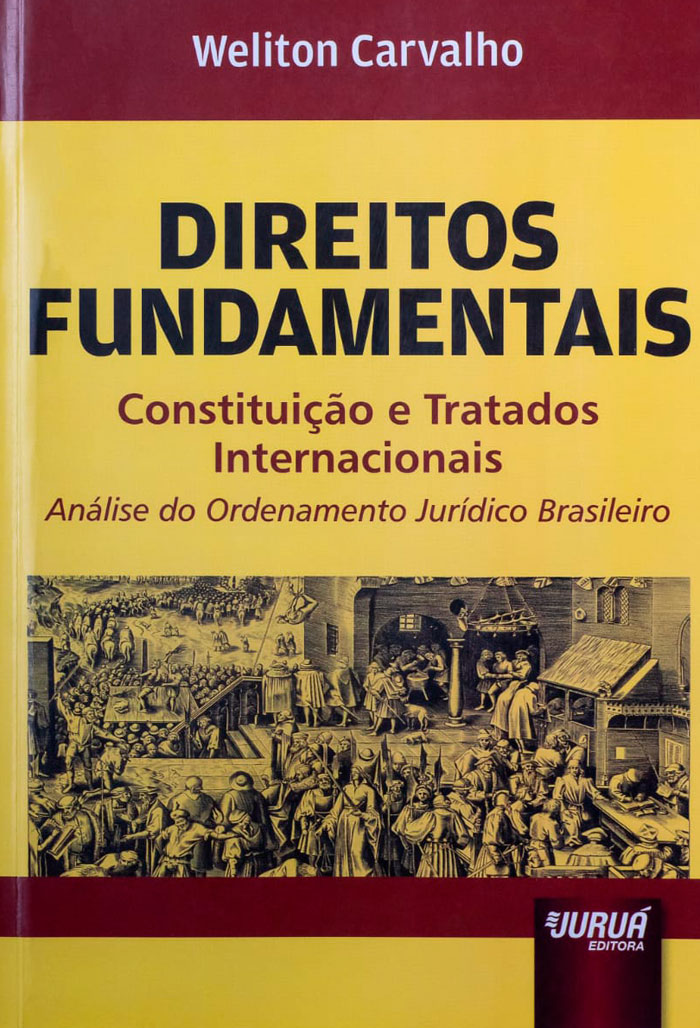Tanta coisa extravia a existência
e um dia se perde à eternidade:
assim o relógio repete a hora,
assim o homem no peitoril,
a mulher esquecida na sala.
As coisas ao redor nasceram para a morte
e soluçam ao ver tanto azul desperdiçado.
Veja o dia: esplêndido e vigoroso irá morrer:
e ao morrer oferta o crepúsculo em vão.
O trânsito. A angústia das horas ignora
o espetáculo do belo e o crepúsculo:
morte vulgar e em solidão.
Mas eis que um dia, de repente,
a sujidada te enjoa além do urbano:
tuas raízes interioranas carcomidas
turvaram o singelo, restou o vazio.
E parece que tudo apodreceu:
o mundo dentro do dia,
o humano sobre suas vísceras.
Não haverá algo que tenha escapado do massacre
dos dias que fizeram tua vida até então?
Casualmente lembra a orquídea (…) era primavera:
estavas em lua-de-mel e amavas tanto.
Naquele dia estavas absorto como agora,
quando olhaste na floricultura uma orquídea
debruçada para além do jarro a dizer a vida
(do belo e da leveza de existir além do cinza).
Tanto se perdeu, mas a orquídea reinventou
naquele instante o sentido de toda existência:
aí a poesia primeiro perguntou: por quê?
e em seguida respondeu: e por que não?
E uma nesga de azul – habitando nas nuvens –
recordou a beleza que arde na vida,
apesar de tudo.