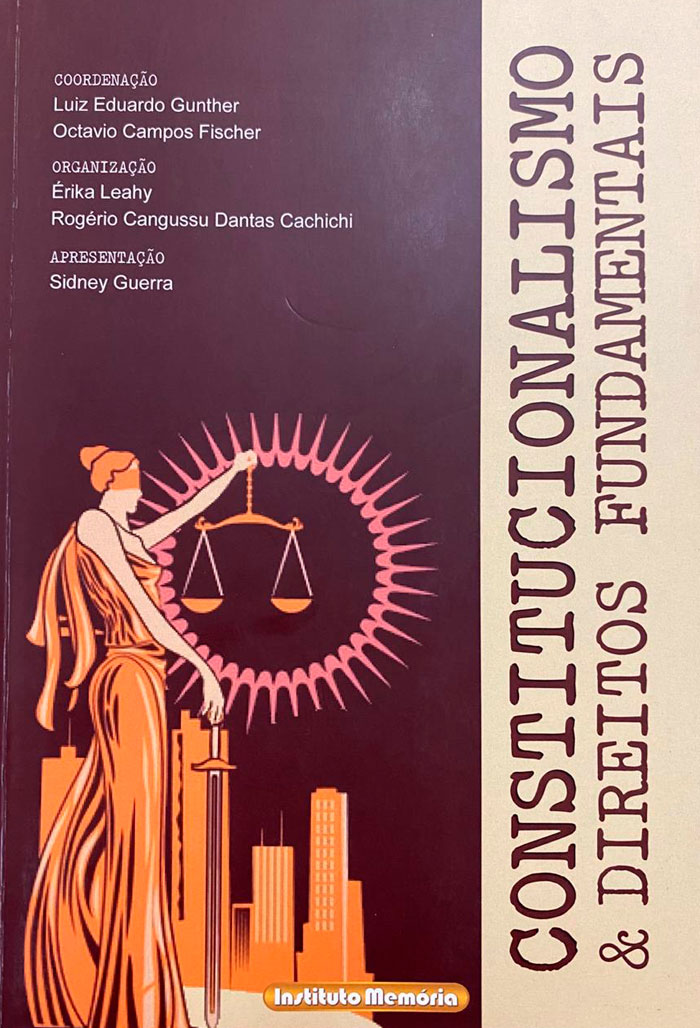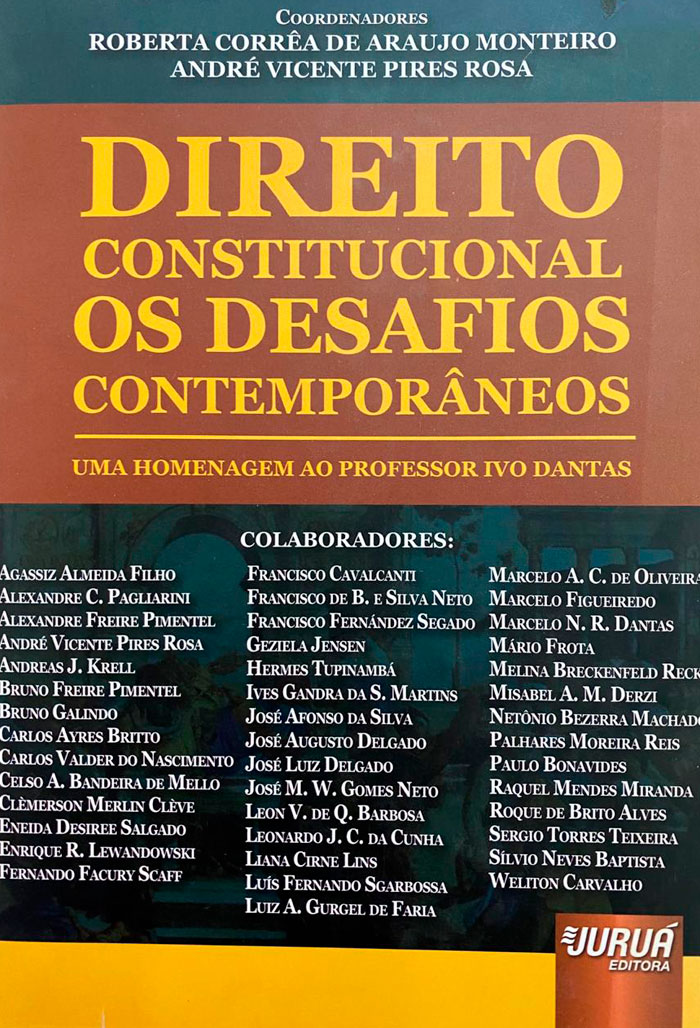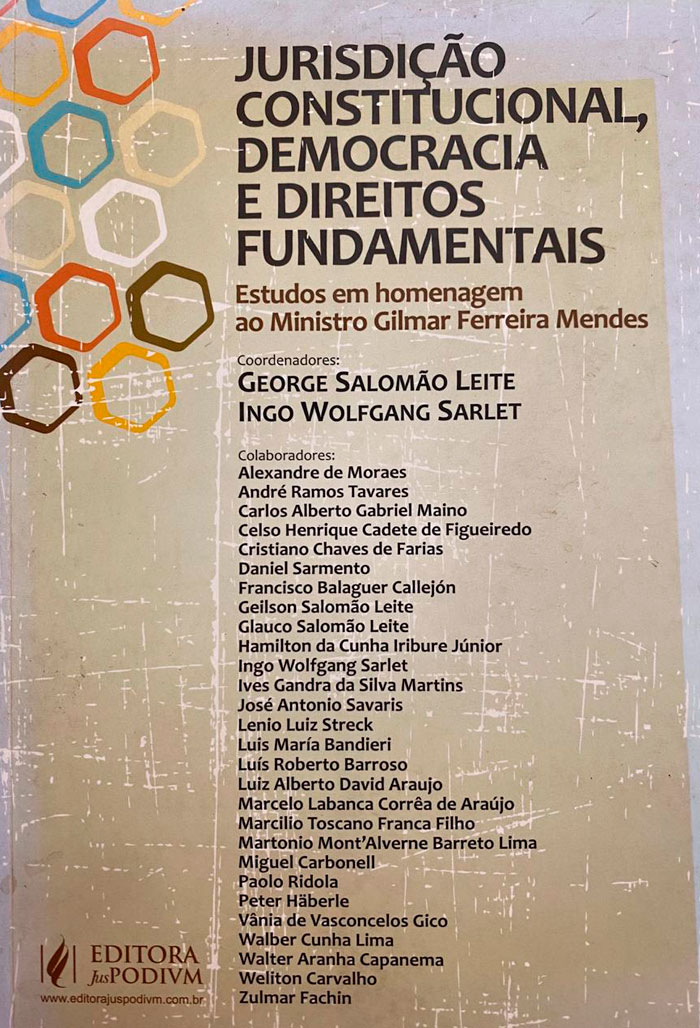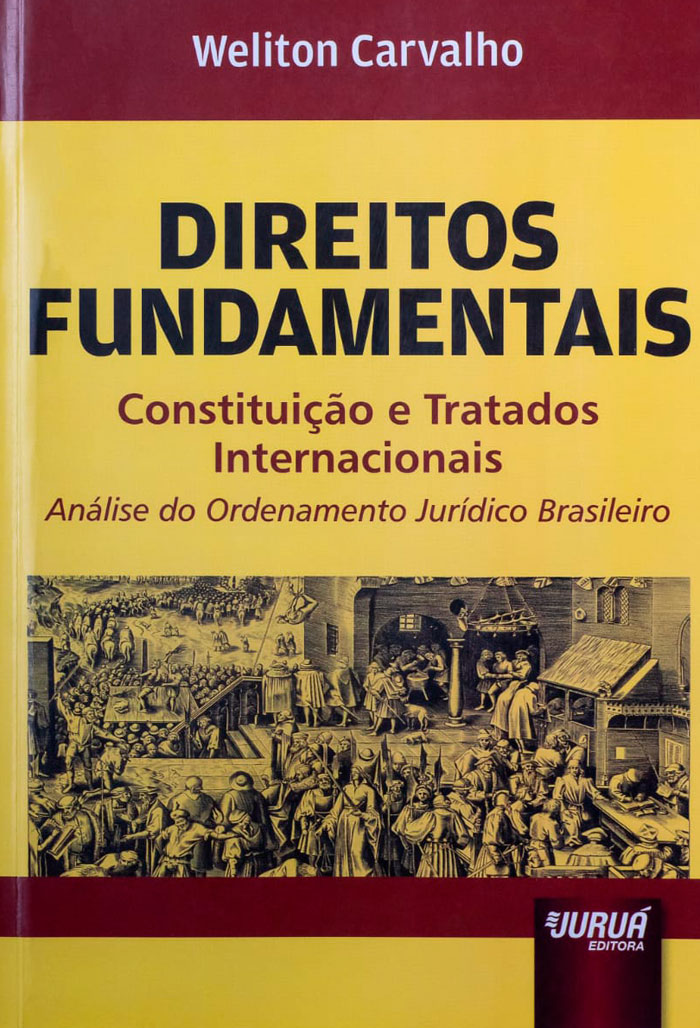De repente o opaco toldou o azul
e o mundo em lúgubre se tornou.
Em verdade não se deu de repente
(eis a tecitura de milhares de anos).
É tapeçaria urdida na complexidade
de natureza de abismos insondáveis.
Estamos, Schopenhauer, na prisão?,
em céu aberto, no vazio do íntimo?
A morte sempre à espreita, em foice,
a descolorir a vida, mostrar seu fardo.
Imersos em agonia, Terra devastada,
para muito além dos versos de Eliot.
Eliot, medita a lição de Schopenhauer:
o mundo é contínuo estado de guerra.
Ainda firme o diagnóstico de Hobbes
com todos os prognósticos em aberto.
A verdade não estaria ao lado de Platão?
(os poetas imitam sem o conhecimento?).
Por vezes declaro a poesia imprestável,
inútil o meu sentido de estranhamento.
─ Não eras tu o poeta da leveza e da flor,
da brisa, do lirismo em pura banalidade?
─ Não sabem o que disse Cristo na cruz?
─ Ó Pai, por que me abandonaste?
Se nossa fragilidade chegasse à espécie,
teria ternura nos olhos, calor nas mãos.
Cristo morreu sem se apartar da beleza
e ainda restam uns poucos nefelibatas,
que fincam barricadas ao pragmatismo
ao utilitarismo, ao cinismo do mercado;
a eles chamamos profetas, poetas, pueris
(eles nada podem, exceto mostrar o azul).
Pensam o mundo em estranhas derivadas
e fazem perguntas assustadoras ao poder:
Quando afinal virá a definitiva revolução?
Sem armas sem mortes sem ódio sem dor,
com os girassóis e nosso batalhão de lírios
e o esquadrão de brisa em flor e açucenas?
Quando então a palavra atingirá a beleza,
o consenso, o amor em delírio cristalino?
Quando não sentiremos mais vergonha
dessa espécie que se perdeu do paraíso?
(ou talvez o paraíso nunca tenha existido:
de mãos apáticas não ousamos erguê-lo).
Quando – embora jogados no infortúnio –
tocaremos o azul no âmago do banal?