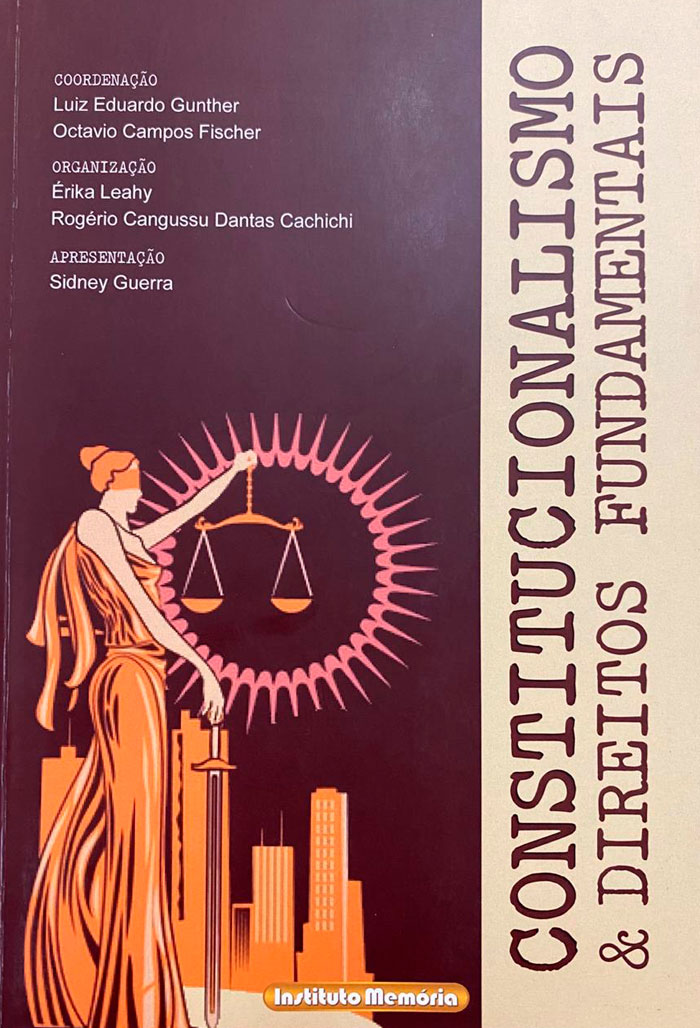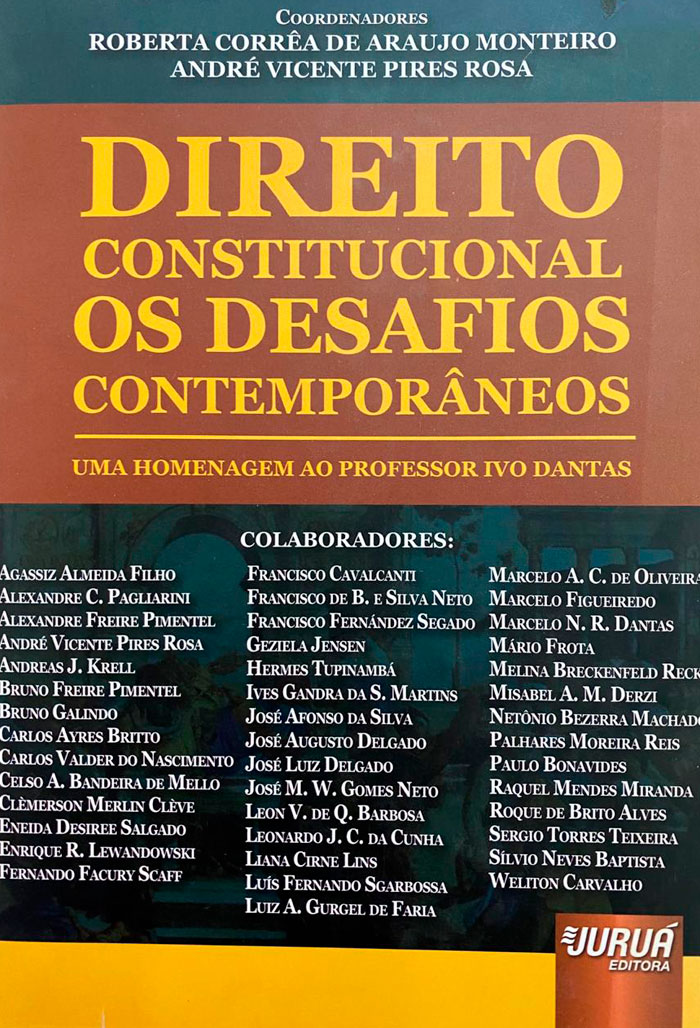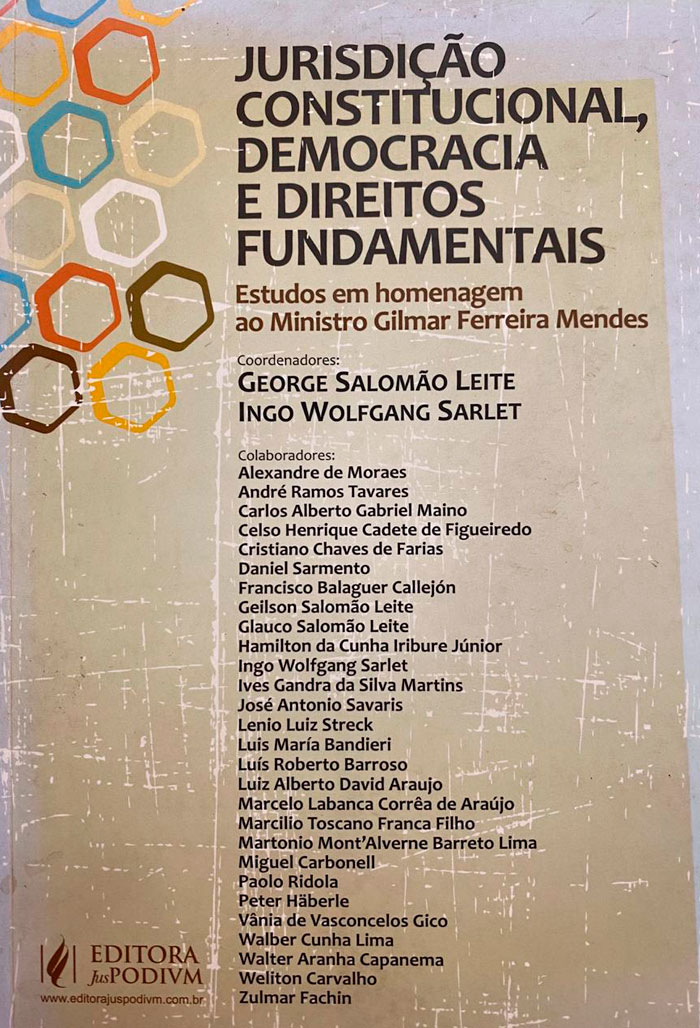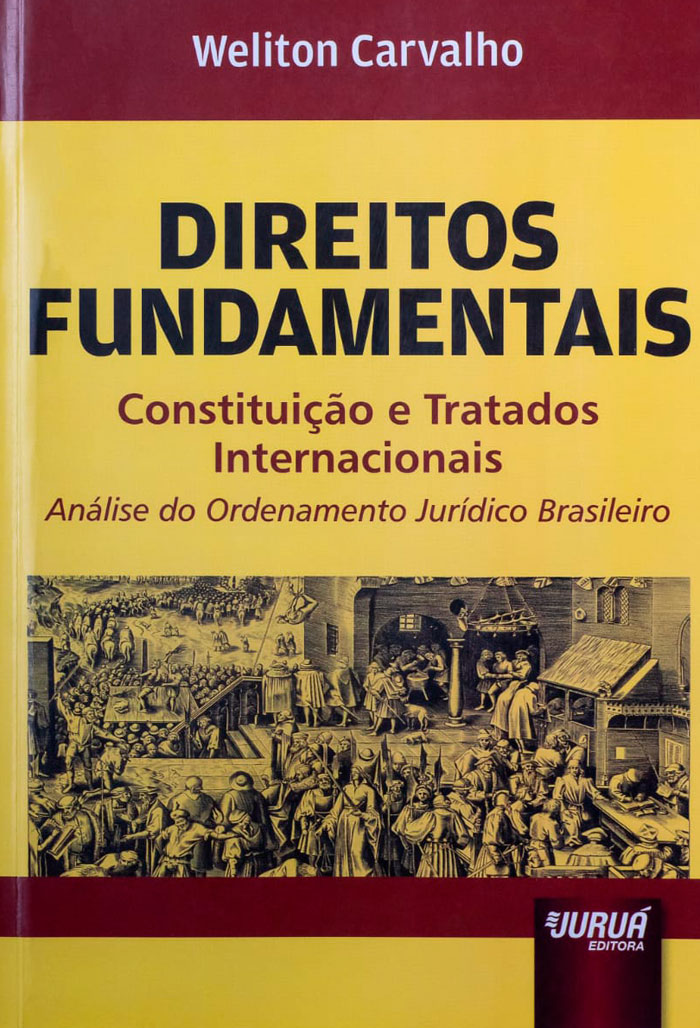Ao chegar ao Rio de Janeiro em 1951 –,
o poeta Ferreira Gullar trazia um delírio
iniciado na úmida São Luís do Maranhão
de sobrados em azulejos e brisas ao vazio.
Mas qual delírio? A luta corporal na poesia.
O des
man
te
lar da
lin
gua
gem.
Tercia um livro que não um livro, mas a vida
em carne viva, soluçar de angústia e orgasmo.
O farto fardo, além do trava língua, era a vida
posta diante da poesia e da linguagem perdida.
O poeta no seu paletó encardido trazia a aurora
em estado de rebeldia, anunciando a catástrofe,
o sólido em vias de se desintegrar e indaga de si:
o caos em busca da harmonia no liame do nada.
Ferreira Gullar no pujante da vida indaga do ser:
duelo do surreal e do lógico, busca do ser no ser,
entranhas da vida na linguagem a parir o verbo.
Mas o verbo era pouco, era preciso o seu abissal:
indispensável o poeta se acasalar com o verbo –
entre a herança e sua renúncia viria outra aurora.
E nos escombros de toda linguagem dinamitada,
viria a placenta escorrendo o sangue do amanhã.
O poeta, quando verdadeiro, suga a linguagem
como se tritura a cana ao alcance do seu açúcar,
a poesia agride, moe, tortura o verbo, para dizer.
Ardia em 1951 no poeta Ferreira Gullar toda fúria:
toda perplexidade da palavra diante da tempestade.
Tal como um Rimbaud, Gullar flanava pela cidade
entre quarto sórdidos, ruas, praças, becos, avenidas
a colher da vida a flor mais visceral do seu jardim.
Igual a Rimbaud, o poeta não via sentido na vida:
exalava a vida tomada no mistério, fulgor da morte
(vida feito incêndio, lâmina, desespero em chamas).
A existência era um barroco furioso e cheio de luz
na faina dourada do poeta enfurecido pela beleza.
Esse verso que se escreve nessa manhã que morre
é fogo e afã – soluçar da vida ardendo na angústia
em busca da unidade, da harmonia dentro do caos;
a poesia alucinada, desafinada, torta, mas é canto –
mistura da ânsia da palavra e o mundo a descobrir.
Na poesia o logocentrismo se mistura ao rés da vida,
em estado líquido, gasoso, sobretudo puro do incerto:
a poesia somente respira no reino extremo dos limites
(poesia habita frestas, hiato entre a palavra e o mundo).
Por frinchas penetra a luz, arrebatar de vigor e afeto –
a lucidez do lirismo acaricia o tédio, o calendário, tudo;
a arte revolve o mundo, posto que ignora neutralidade,
na sua sanha de comunicar a vida se fundindo ao belo.
A poesia carece do mito para ancorar a outra verdade,
aquela que lateja no mais íntimo rasgar dos mistérios –
onde a palavra é precária, o ser imperfeito, a vida vazia,
mas de repente tudo isso rompe numa fúria de beleza –
dentro do labirinto tudo se ilumina no átimo do eterno.
Aos 21 anos o poeta Ferreira Gullar habitava o incêndio
e alucinado flamejava suas labaredas envolvendo o leitor:
sua atividade heurística, desejo de encontrar a linguagem;
os símbolos em plena agonia toldando a poesia e a prosa:
afã de alcançar o não dito, urro da linguagem, o inefável.
A palavra ainda não diz o que queima o verão e os olhos,
por isso era preciso inventar a linguagem dentro da poesia:
escrever se tornou uma aventura soluçando pelos abismos.
Nos bolsos do paletó encardido outro mundo ardia:
o delírio na mais feroz temperatura de infinitos sóis.