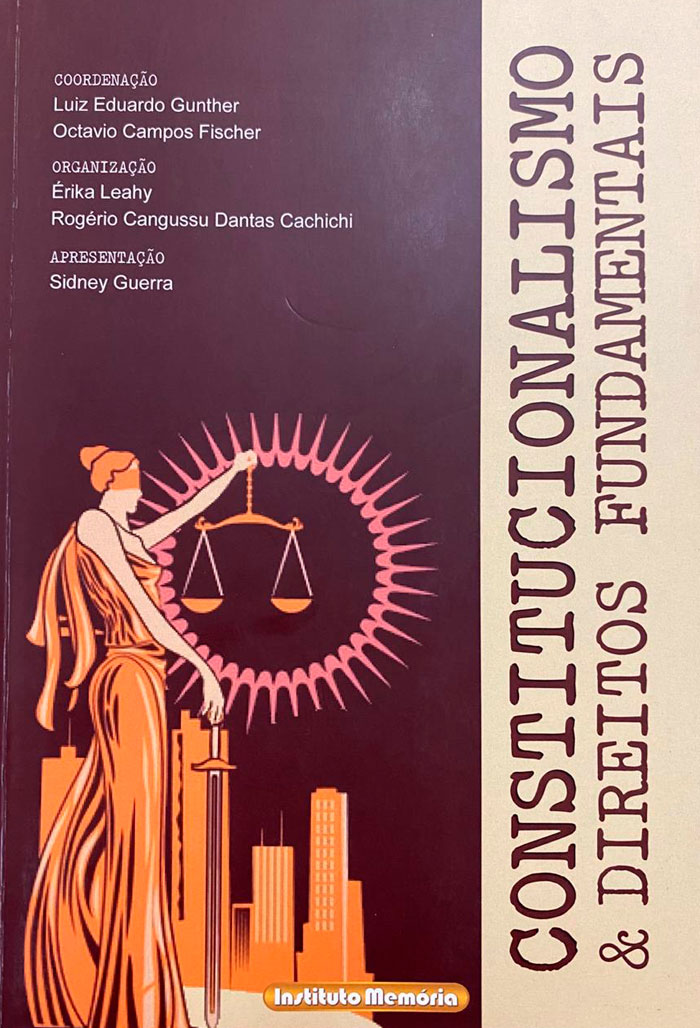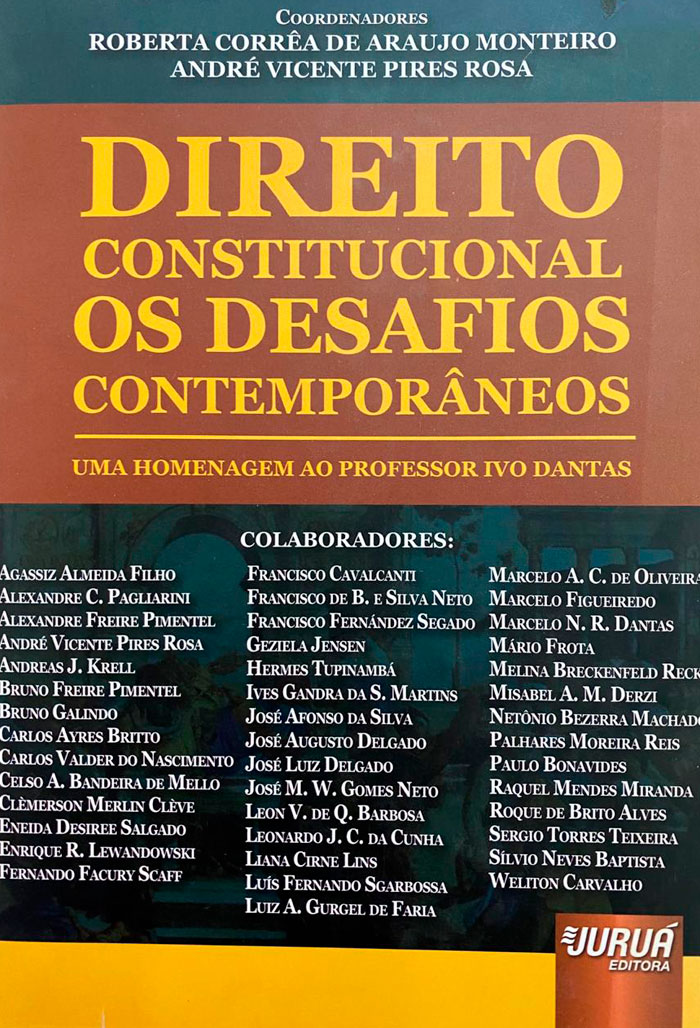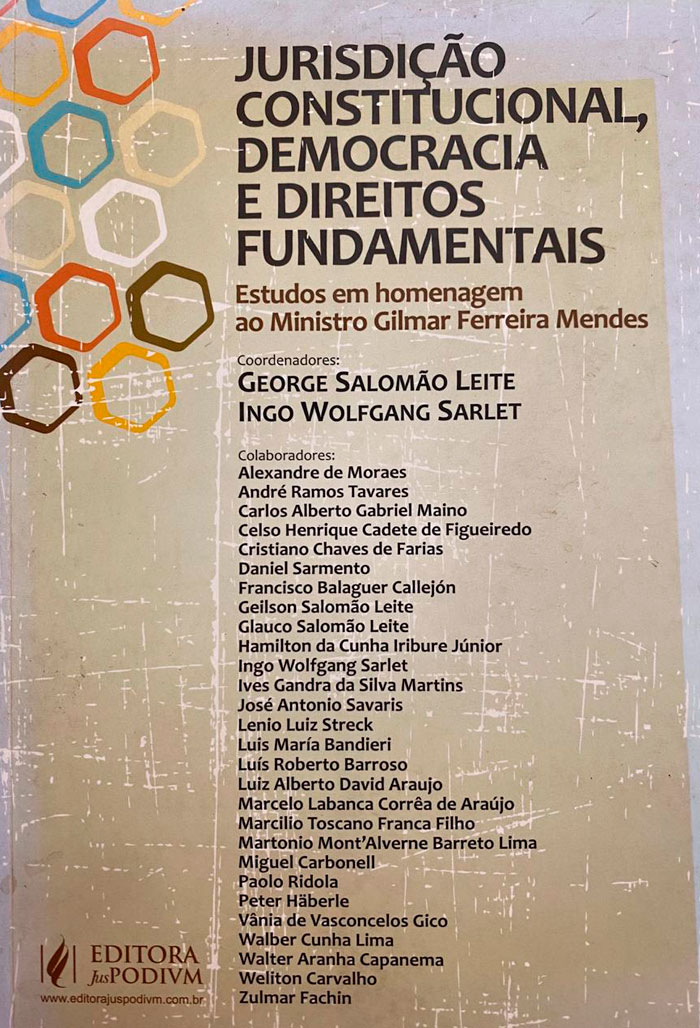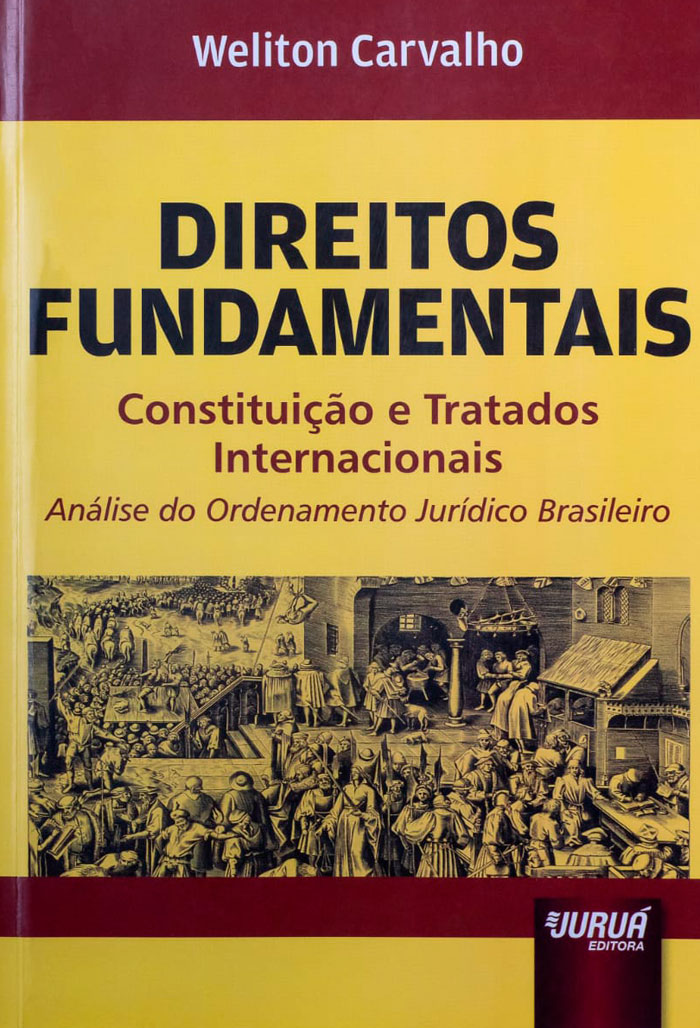Havia algo inquieto no sossego do quintal
entre as galinhas, patos e alaridos vários
e depois o silêncio denso na água do poço
(ali estava tudo que não podia ser dito).
Notava que os adultos me escondiam algo:
— Isso não é assunto para criança!
Cresci com esse sentimento definitivo:
a espreitar o trágico se urdir no mundo.
Tinha esperança em ser confidente do silêncio
e me sentava à beira do poço: paz e angústia
confabulavam no meio da tarde em conflito
(o poço espelhando toda a imensidão do céu)
Esse silêncio, mestre-escola de toda angústia,
a dizer dos fantasmas que habitam a infância
– reino de fantasia e abismos eternos –
E tantos eram os medos: o pavor da morte
(se minha mãe morresse, se meu pai se fosse).
Dona Rosa morreu ao acordar com a chuva
invadindo toda a casa e todo seu desamparo:
— Pisou no molhado e se foi desse mundo,
disse Aldo numa frase que achei tão bonita,
mas que tinha a estética do lamento em dor.
Depois pensei no homem, vizinho do fim da rua
ele morreu baleado por um pistoleiro de Bacabal
(murmurei: como ficarei no mundo? se meu pai,
se a água invadir a casa e mamãe pisar no molhado?)
Nesse tempo soube que Deus morava no céu:
foi o deslumbrar da ancestralidade do simplório.
Um dia minha mãe disse: — Deus tudo vê.
Era a premissa maior do primeiro silogismo:
Deus mora no céu, que cobre todas as coisas.
(as formigas, o quintal, as casas e a gente).
Então ao sentir angústia, olhava para o céu.
Agora, a melancolia me visita na meia-idade
e me vem o poço, sua angústia e mistérios:
costumo olhar demoradamente para o céu
e lembrar: os abismos se abrigam no azul.