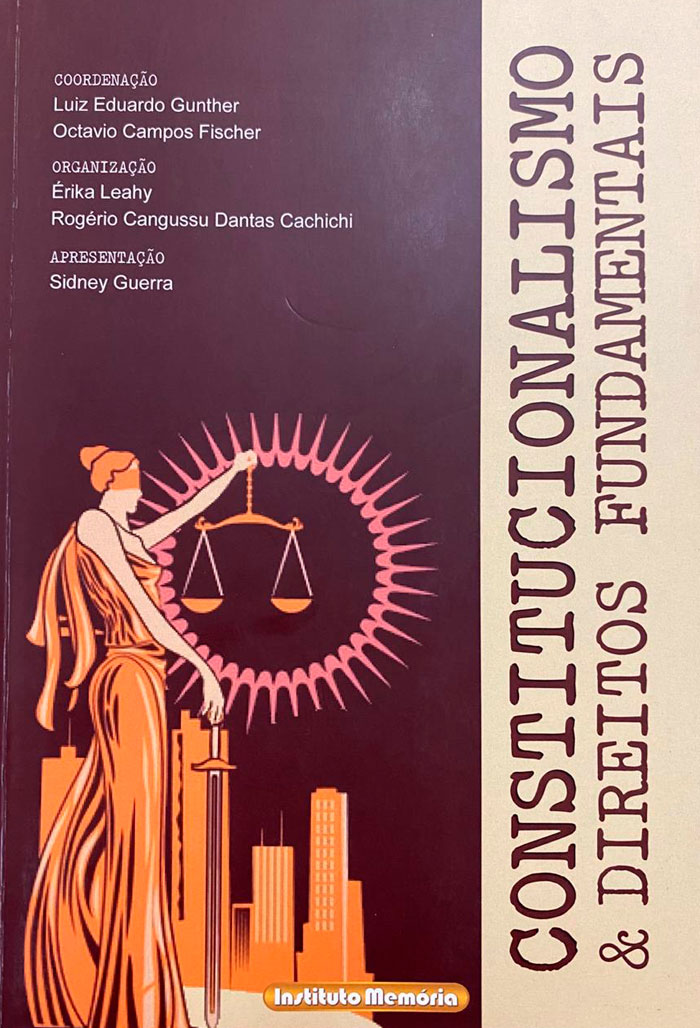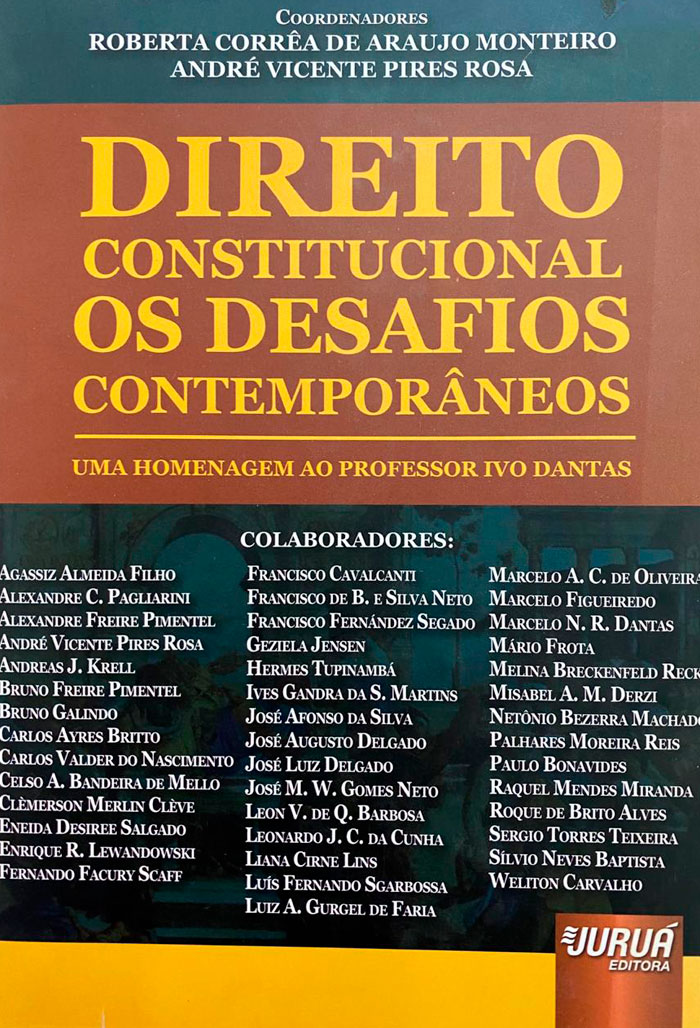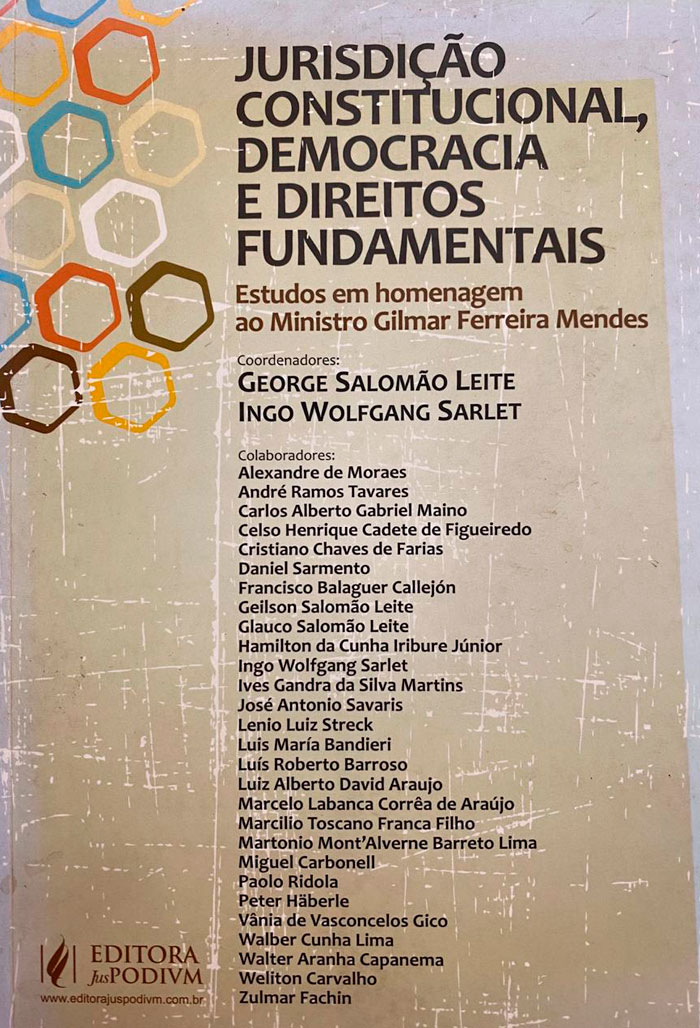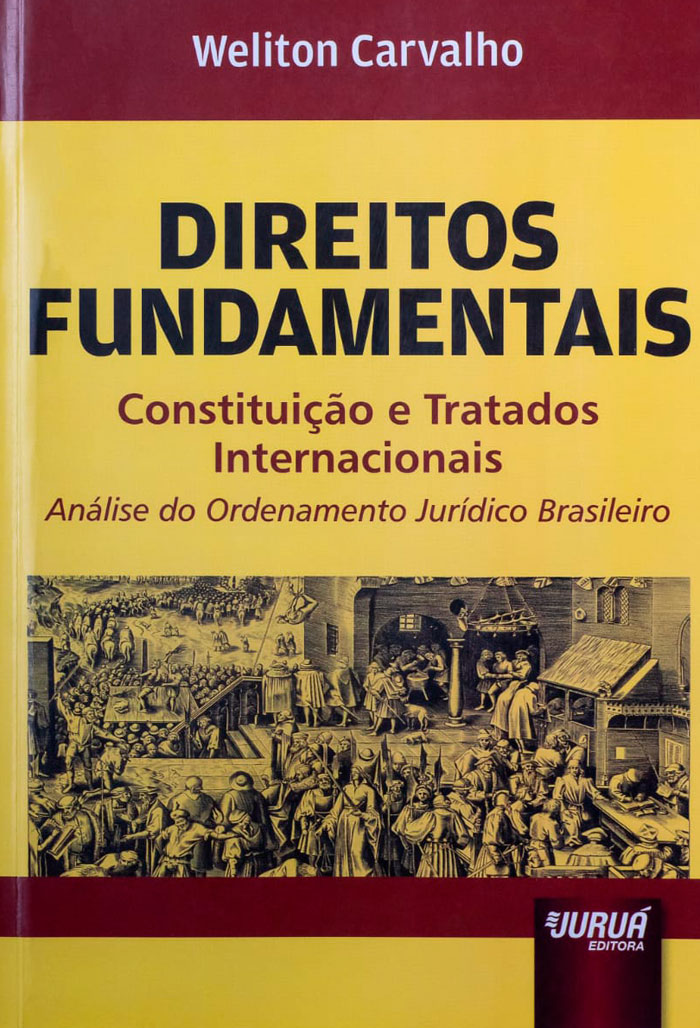a Paulo Rodrigues
Ao acaso agora assisto Viagem de Inverno de Schubert
(baseada nos poemas do romântico Wilhelm Muller)
é claro que um poeta tropical não iria pensar em neve:
foi a chuva que veio à janela tal um passarinho molhado
e festejou entre alaridos e silêncio a festa da melancolia.
Não sei ao certo se aquela foi a primeira chuva que vi
– mas foi aquela a primeira chuva de que me lembro –
Era em Santa Inês em um dia do calendário da infância
(minha mãe falava em chuva e eu não sabia o que era):
ela disse que na chuva a água caía do céu em toda cidade
(ou seja no mundo inteiro: a cidade era o planeta Terra).
— A rigor a cidade compunha o cosmo e o infinito —
Minha mãe disse que a chuva só acontecia no inverno
e ainda hoje repito isso, mesmo sabendo a lição escolar:
o clima tropical só tem duas estações: verão e inverno
(e o curioso é que o verão é chuvoso e o inverno seco)
—Mania da escola de estragar o sabor das coisas lúdicas.
O primeiro verso de Wilhelm Muller foi todo desenlace:
a estranheza de já não ser o menino que viu a chuva (…):
a chuva veio agora me encontrar de óculos e rugas.
Wilhelm Muller se vai inteiro ao encontro da mulher amada,
mas a música de Schubert me trouxe a chuva na província
em liquidez da infância desatada e decantada no silêncio
da musa, uma cidadezinha de pedra pintada no onírico,
onde agora chove e o tempo em suspensão se comove
com as casas fechadas, as biqueiras em alarido de festa
diante o saltitar da liberdade dos meninos soltos ao nada.
O poeta sente o vento frio que brinca na casa da amada,
vejo a chuva celebrar a vida nas folhas da velha bananeira
ou eram lágrimas da velha bananeira a lembrar a mocidade?
Vem agora a Wilhelm Muller todo o aroma da tilía cordata
que junto ao poço do portão embala sonhos doce à sombra:
no piano de Barenboim o poço de casa transborda melancolia
de seda suavidade no bater monótono da água na água,
do tempo no tempo a solfejar a vida toda se escorrendo.
A chuva corria num rio em busca da amada de Wihelm Muller
e rachaduras no céu de Santa Inês se abriam em relâmpagos
(nunca ninguém me disse de melhor definição da poesia).
A memória é um rio que afunda tantos desejos que ardiam
e que vão – tal a chuva – levados pelas correntezas da vida:
à medida que a vida se acalma os desejos se tornam cinzas,
mas podem, subitamente, eclodir em devastadora erupção.
É possível deixar a cidade, onde habitava a deusa amada;
mas quando é a cidade quem guarda teu coração infantil
como deixá-la?, como partir?, como te apagar, fogo-fátuo?
Quando Franz Schubert entregava música ao silêncio,
ouvia o estardalhaço dos trovões rugindo pela cidade
e minha mãe se persignando cobrindo o velho espelho:
sentia que o trovão era Deus ralhando com os adultos.
Wihelm Muller mostra a Schubert a plena primavera
e a música acalenta em mim os tímidos raios de sol
que trazem a monotonia colorida da vida a seu lugar:
não há esperança maior que vê o sol depois da chuva
e o cheiro da terra molhada impregnar toda memória:
Schubert dizia de todas as insignificâncias do mundo.
Depois da chuva o arco-íris suave e misterioso pousou
sobre as nuvens e uma estranha brisa rugia mansidão:
não mais duvidei que o arco-íris era a aliança de Deus
não com a gente, mas com a beleza infinita da criação.
Paro e recordo que há anos deixei a minha Jerusalém,
mas Santa Inês me vem inteira se entregar tal a amada
que faz o coração de Wilhelm Muller se aquecer na neve:
a neve na cabeça de Wilhelm Muller e meus cabelos brancos
se comovem pelo amor, motor que tudo move e paralisa.
Cessada a chuva voltam os pássaros, as borboletas, o azul
e as folhas das mangueiras se põem viçosas ao brilho do sol:
e mal o cinzento do céu se esvai sem marcar data de retorno
todos voltam aos seus pedaços da vida, indiferentes
ao espetáculo da chuva, dos raios, trovões e arco-íris.
— Mas aquele frêmito da chuva se fez eterno no menino!
Nessa manhã banal de minha vida, uma luz mágica me visita
e sucedeu dela dançar a Wilhelm Muller entre 1822 e 1824.
(a poesia sabe da inexistência do tempo e do eterno da beleza).
Wilhelm Muller, meu irmão, o ermo desde a infância me seduziu
e todos os românticos seguiram esse destino de dizer o silêncio
(mesmo em nosso Schubert expansivo havia um quê melancólico).
A vida requer a firmeza da jornada que a chuva veio interromper,
porque o sonho se impõe necessário mesmo por um átimo do dia
(e quando não há esse átimo no dia, o sonho acompanha o sono).
Quando a música de Schubert é quase inaudível ouço o serenar
da gente em Santa Inês saindo à porta da rua ao fim da chuva
a consultar o céu se a noite haverá prosa e cadeiras na calçada:
mesmo havendo Deus no céu a vida carece de invento na terra.
Na vida é preciso cantar, Wilhelm Muller, ainda que desafinado:
é preciso tocar um instrumento, ainda que o monótono realejo;
faz-se necessário escrever versos ainda que se tornem inéditos.
No final da Viagem de Inverno, não foi em Franz Schubert
nem no talento de Daniel Barenboim ou de Wilhelm Muller
em quem me detive, mas no pequeno Thomas Quasthoff:
sua voz declamava o poema, mas outra coisa me dizia
e dentro de mim, a chuva descia caudalosa, verdadeira
e tão fantástica que um menino rebentou em soluços,
porque não é a realidade a sustentar a essência da vida
— A vida é um mistério escorada no milagre.
Chuva na memória e a amada de neve encantada:
no instante um mundo inteiro floresceu na alma
e algo levitou sobre os esquadros cartesianos.